O universo inteiro em uma imagem
Nos últimos anos, notei
como a simples ideia de medir o que nos rodeia em escalas astronômicas gera
mais confusão do que clareza. A cada novo dado capturado por instrumentos como
radiotelescópios ou sondas espaciais, os números ficam cada vez mais impressionantes,
e muitas pessoas acabam acreditando que visualizar o Universo como um todo é
algo praticamente impossível.
Acontece que, quando representamos do Sol até as regiões mais remotas que conseguimos detectar, precisamos recorrer a técnicas que simplifiquem essa grandeza colossal. A solução encontrada, que considero genial, é a aplicação de uma escala logarítmica, onde cada passo para fora aumenta a distância de forma exponencial, em vez de meramente duplicar ou triplicar o valor anterior. Curiosamente, essa abordagem nos permite “colocar” planetas, estrelas e galáxias distantes dentro de uma única ilustração sem que tudo saia do papel ou da tela.
Por que nossa visão de
distância é tão limitada?
Desde criança, costumamos pensar
em termos de metros e quilômetros, o que faz bastante sentido para o dia a dia.
Porém, quando entramos no território interplanetário, apenas essa noção não dá
conta do recado. Por exemplo, o Cinturão de Kuiper, que fica além de Netuno, se
estende por bilhões de quilômetros recheados de fragmentos gelados. Mesmo que
pareça um espaço “próximo” aos planetas, na prática isso representa distâncias
que excedem o nosso entendimento habitual.
Como editor de jornalismo
científico, já presenciei diversas reações ao mostrar que Alfa Centauri, a
estrela mais próxima além do nosso Sol, está a cerca de 40 trilhões de
quilômetros. Alguns ficam boquiabertos, enquanto outros soltam risadas nervosas
por acharem esses números irreais. Não é questão de ser real ou não, mas sim de
reconhecermos que a linguagem comum não foi pensada para tamanha imensidão.
Para complicar ainda mais, quando
avaliamos a Via Lactea como um todo, a situação fica mais chocante. Nosso disco
galáctico pode ter até 946 quatrilhões de quilômetros de diâmetro, o que faria
qualquer painel de carro acusar pane no velocímetro. É nesse momento que
percebemos que falar sobre grandes distâncias usando “quilômetros” faz soar até
mesmo cômico.
Acrescento um dado que poucos se
dão conta : mesmo com essas escalas enormes, à maior parte do espaço é puro
vácuo, com pequenos grãos de matéria aqui ou ali (estrelas, planetas e outras
formações). De certo modo, é como se o Universo fosse um deserto gigantesco
onde os poucos oásis são mundos e sistemas espalhados.
Entretanto a maioria das pessoas,
não imagina o quanto o espaço entre um planeta e outro supera de longe qualquer
distância terrestre. Isso fica claro no momento em que tentamos desenhar nosso
Sistema Solar inteiro em proporção linear: a Terra mal se destacaria, e Júpiter
surgiria quase microscópico, enquanto o vazio dominaria todo o resto do
diagrama.
Nesse cenário surge a escala
logartmica para salvar o dia. Em vez de avançar mil quilômetros, depois mais
mil, o passo seguinte multiplica a distância por um fator, o que possibilita
acomodar lugares distantes sem perder completamente a noção de onde cada um se
encontra. Mesmo assim, ainda é preciso exagerar o tamanho de planetas e
estrelas para que consigamos enxergá-los, senão seriam meros pontos perdidos no
papel.
Descobrir o equilíbrio entre
manter a essência dos dados científicos e criar uma imagem didática não é
simples. Contudo, o resultado costuma encantar estudantes, leigos e até mesmo
pesquisadores, pois ilustra simultaneamente as proximidades do Sol e as fronteiras
do Universo mapeadas pela radiação cósmica de fundo.
Escala logarítmica: do Sol
à radiação cósmica
Essa ferramenta conceitual
percorre o Sistema Solar, atinge a Via Láctea e ainda “dá um pulinho” nas
galáxias vizinhas. Em cada faixa, a distância não se soma, mas se multiplica —
o que ajuda a encaixar desde o Cinturão de Kuiper até a galáxia Andrômeda em um
mesmo panorama. Em minha experiência, o grande trunfo está na possibilidade de
exibir o todo sem que um único parâmetro “monopolize” a figura.
Objetos como Júpiter e Saturno,
que dominam nossa vizinhança, aparecem com suas cores e anéis acentuados,
enquanto estrelas de outras regiões da Via Láctea surgem igualmente destacadas
no desenho. Esse truque visual também funciona para mostrar estruturas ainda
maiores, como os aglomerados de galáxias e a teia cósmica, onde as galáxias
formam arranjos filamentares que lembram nós interligados.
A radiação cósmica de fundo,
detectada por satélites como o COBE e o WMAP, representa um marco temporal e
espacial: estamos falando de uma emissão de cerca de 13,8 bilhões de anos
atrás, resultado direto do estado jovem do Universo. Evidentemente, não se
trata de “ver” esse fenômeno da mesma forma que enxergamos Júpiter, mas as
medições mostram esse eco primitivo disperso de forma homogênea pelos confins
do Cosmos.
Quem diria que com criatividade
poderíamos colocar num único diagrama desde a nossa pequenina Terra até eventos
de uma época em que o Universo era praticamente um caldo fervente de
partículas? É aí que entra a graça: mesmo com uma representação adaptada, ela
ainda dá conta de nos situar nessa jornada colossal.
Muitos artistas e divulgadores
usam imagens estilizadas para representar fenomeno como a separação entre
galáxias e a expansão espacial em si. A ideia é aumentar o que é visível
(planetas, estrelas) sem esconder o fato de que, no universo real, a maior parte
é vazio e escuridão. Se tentássemos desenhar de forma totalmente fidedigna aos
números, nenhum dos astros seria perceptível.
Há quem critique essa “distorção”
de tamanhos, mas considero que sem esse recurso perderíamos a oportunidade de
encantar o público com a variedade de formatos e cores presentes em galáxias
espirais, em planetas cheios de anéis ou em nebulosas multicoloridas. A
analogia que gosto de fazer é: ilustrar o Universo sem esse zoom seria como
tentar mostrar os detalhes de um inseto no campo com uma lente normal — não
enxergaríamos quase nada.
Em todo caso, a proposta não é
substituir medições exatas, mas complementar a compreensão com algo que seja,
ao mesmo tempo, correto do ponto de vista astronômico e instigante aos nossos
olhos. Aprendi que a arte e a ciência, quando andam juntas, alcançam mais
pessoas do que cada uma sozinha.
Universo observável e
curiosidades que surpreendem
Embora muitas pessoas já tenham
ouvido falar de galáxias como Andrômeda ou NGC 1300, poucas de fato se dão
conta de que essas formações não passam de pequenas partes de grandes
aglomerados, os quais, por sua vez, se conectam a outros ainda mais extensos.
Esse gigantesco mosaico cósmico nos convida a refletir sobre quão periférico —
e, ao mesmo tempo, especial — é nosso canto do espaço.
Volto à questão de Alfa Centauri:
essa estrela tão “próxima” abre o imaginário de futuros saltos interestelares.
Ainda estamos engatinhando em termos de viagens espaciais tripuladas, mas não
deixo de achar divertido pensar em como reagiríamos se alguém já tivesse nos
visitado sem a gente perceber, talvez com alguma tecnologia avançada.
Em paralelo, o Sistema Solar
permanece recheado de zonas não totalmente exploradas, como o próprio Cinturão
de Kuiper e a Nuvem de Oort. Se algum dia mandarmos sondas até lá, poderemos
descobrir mundos gelados e intrigantes, o que renderia manchetes tão marcantes
quanto as que vimos com a chegada da New Horizons a Plutão.
No contato que tenho com
leitores, vejo que muitos se surpreendem ao saber que, para além das galáxias,
existe toda uma teia, como se fossem fios que conectam aglomerados. Esse
arranjo indica que a matéria escura tem um papel de sustentação desse “esqueleto”
universal, algo que me parece digno de um roteiro de ficção científica.
Hypescience.com





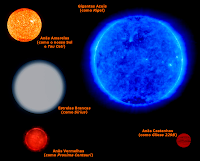





Comentários
Postar um comentário
Se você achou interessante essa postagem deixe seu comentario!